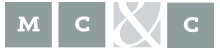O QUE SOBROU DO SISTEMA ACUSATÓRIO APÓS A DECISÃO DO STF?
19/09/2023Por Aury Lopes Jr., Jacinto Nelson de Miranda Coutinho e Alexandre Morais da Rosa
Retomamos as colunas semanais na formação original aqui na ConJur, com o objetivo de discutir Processo Penal. Dedicaremos os primeiros artigos à reflexão quanto ao impacto da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o “pacote anticrime”, especialmente as consequências práticas, incoerências, inconsistências e paradoxos, na perspectiva colaborativa e democrática e do lugar de professores de Processo Penal.
Sempre afirmamos que o processo penal brasileiro operava com suporte Inquisitório [ou neoinquisitório], e que rejeitávamos, acompanhados de grande parte da doutrina, a classificação do sistema como sendo “misto”, composto por duas fases: [1] Inquisitória [Investigação Criminal]; e, [2] Acusatória [Procedimento Judicial]. A qualificação do Sistema Misto, diante da mera separação dos sujeitos processuais [Delegado ou Ministério Público na Investigação e Magistrados no Procedimento Judicial] é insuficiente à observância do critério diferenciador entre os Sistemas históricos: a gestão da prova.
Enquanto no Sistema Inquisitório a autoridade produz prova de ofício, no Sistema Acusatório a atribuição da carga probatória é restrita às partes, com a preservação da função estatal de terceiro. Perceba-se que a criação artificial da Instituição Ministério Público objetivou a cisão entre as funções de acusar e julgar, justamente para que o Estado possa agir de modo imparcial no lugar de terceiro. Logo, compete ao Ministério Pública o exercício da ação penal pública ou condicionada [CR, arts. 127 e 129] e dos atos relacionados à procedência do pedido, dentre eles o ônus da prova quanto à hipótese acusatória [HAc].
Entretanto, a superação da herança autoritária do Código de Processo Penal de 1941 realiza-se com avanços e retrocessos quanto ao suporte normativo e as interpretações incidentes. A Exposição de Motivos do CPP de 1941 faz loas explícitas ao “fascismo”, submete os direitos individuais ao interesse coletivo, invertendo a lógica que preside qualquer abordagem minimamente democrática, com base nos Direitos Fundamentais. O giro constitucional foi insuficiente à alteração de boa parte das interpretações que preservaram compreensões forjadas a partir da mentalidade inquisitória, especialmente quanto à gestão da prova, nulidades e teoria da decisão penal.
O Supremo Tribunal Federal, após a Constituição da República de 1988, ampliou [HC 84.078, j. em 5/2/2009], restringiu [HC 196.212, j. em 17/02/2016] e depois voltou atrás [ADCs 43 e 44] quanto à extensão do Princípio da Presunção de Inocência, com a autorização da prisão em face de decisão condenatória em segunda instância, relutou em reconhecer a vedação da prisão de ofício [sem requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, ainda que muita gente ainda pense que a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, sem pedido, seja algo legítimo e constitucional.], reconheceu a legitimidade da produção de prova de ofício, mantendo intactos os dispositivos do CPP [artigos 156 e 209] e admitiu a condenação mesmo com pedido de absolvição formulado pelo acusador, com violação ao princípio da correlação [CPP, artigo 385].
Ao mesmo tempo, avançou ao substituir a pena nos casos de tráfico privilegiado [Lei 11.343/06, artigo 33, § 4º], declarou o Estado de Coisas Inconstitucional do Sistema Carcerário [ADPF 347], reconheceu o direito de acesso à defesa das provas produzidas durante às investigações [Súmula Vinculante 14] e ao regime harmonizado de cumprimento da pena [Súmula Vinculante 56]. Entre idas e vindas, embora todos os ministros declarem o princípio acusatório, o preenchimento do significado é difuso.
Ainda que a Constituição desenhe um sistema acusatório — no conjunto do seu regramento, ao consagrar ao MP como titular da ação pública, garantir expressamente o contraditório [só possível no sistema acusatório], ampla defesa, devido processo, imparcialidade, imediação, oralidade etc. — nosso CPP seguia hígido com sua estrutura autoritária e inquisitória.
Depois da “lava Jato” e a cruzada do “escrete Moro”, finalmente perceberam a importância de reestudar os sistemas processuais e consagrar o modelo acusatório, com a radical separação de funções: somente ele cria as condições de possibilidade de termos um órgão julgador imparcial. Aliado à estrutura acusatória, o juiz das garantias [sistema doble juez] e a luta pela originalidade cognitiva, são imprescindíveis para termos um devido processo e um juiz imparcial.
Então, neste contexto, vem a Lei 13964/2019, estabelecendo no seu artigo 3º-A do CPP:
“Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.”
Bingo, finalmente assumimos que não tínhamos [porque se tivéssemos não seria preciso uma lei nova] e que precisávamos ter uma estrutura acusatória. A redação, mesmo que façamos algumas críticas pontuais, representa uma evolução para o nosso atrasado processo penal inquisitório. A observância do ne procedat iudex ex officio marca indelével de um processo acusatório, que mantenha um juiz-espectador e não juiz-protagonista, criava as condições de possibilidade para termos um “juiz imparcial”. É preciso que cada um ocupe o seu “lugar constitucionalmente demarcado” [clássica lição de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho], com o MP acusando e provando [a carga da prova é de quem alega], a defesa trazendo seus argumentos [sem carga probatória, na hipótese de defesa negativa] e o juiz, julgando. Simples?
Nem tanto, basta ver que a estrutura inquisitória e a cultura inquisitória [fortíssima] fez e faz com que se resista à implementação da estrutura dialética por vários motivos históricos, dentre eles o mito da “busca da verdade real” [Salah Khaled] e o anseio mítico pelo “juiz justiceiro”, que “faça condenações” mesmo que o acusador não produza prova suficiente.
O problema veio depois da Lei 13.964/19, quando o STF foi chamado a se manifestar no julgamento das ADI’s nº 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, em 24/8/2023, entendendo, por maioria: “atribuir interpretação conforme ao art. 3º-A do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, para assentar que o juiz, pontualmente, nos limites legalmente autorizados, pode determinar a realização de diligências suplementares, para o fim de dirimir dúvida sobre questão relevante para o julgamento do mérito”.
Em resumo, o STF entendeu que o sistema é acusatório, mas o juiz pode determinar a produção de provas — de ofício — para dirimir dúvida sobre questão relevante para o julgamento. E quais são os limites legalmente autorizados? Aqueles previstos no CPP e desde sempre criticados, como por exemplo, os artigos 156 e 209. Eis a síntese do sistema acusatório “a la STF”: a estrutura é acusatória, mas se o juiz quiser, pode assumir função de acusador [juiz inquisidor]. Perceba-se, desde já, que a ausência de provas é causa de absolvição [CPP, artigo 386, VII], sem que se exija absolvição qualificada, sendo falaciosa [ilógica] a produção de provas em favor da defesa.
Logo, se o “mérito” é a hipótese acusatória [HAc], o movimento judicial “para o fim de dirimir dúvida sobre questão relevante para o julgamento de mérito” somente aproveita a acusação. Quando faltarem provas, o órgão julgador abandona o lugar de terceiro, adentra ao campo probatório em reforço à acusação, pegando a defesa de surpresa, com o consequente desequilíbrio de tratamento igualitário e/ou de paridade de armas.
No fundo, quando toda doutrina crítica e constitucionalmente comprometida afirmava que — após a Lei 13964 — os artigos 156 e 209 e todos aqueles que permitiam a postura inquisitória do juiz, produzindo provas de ofício, estavam tacitamente revogados, o que faz o STF? Salva a matriz inquisitória e autoritária do CPP/1941 ao preservar que o juiz, “pontualmente (?), nos limites legalmente autorizados”, possa seguir produzindo provas de ofício quando estiver em dúvida, deixando de lado outro princípio básico do processo penal: dúvida = absolvição [in dubio pro reo]. Ora, se ao final do processo, depois de toda atividade probatória do MP [detentor exclusivo da carga de provar, pois a defesa não tem carga probatória alguma, diante da presunção de inocência] não houver prova suficiente, robusta e acima de qualquer dúvida razoável da materialidade e autoria de um crime, não deve(ria) haver outro caminho que não a absolvição. Se o juiz estiver em dúvida, deve aplicar o in dubio pro reo, critério constitucional e pragmático de solução.
No sistema acusatório é assim. Mas o STF dá uma interpretação enviesada e transforma a mudança legislativa em um “faz-de-contas-acusatório”, mantida a matriz neoinquisitória. Perdemos uma grande oportunidade de evoluir e efetivar o projeto constitucional não por resistência legislativa, mas judicial. Com todo o respeito, não conseguimos identificar as razões objetivas da suposta inconstitucionalidade do artigo 3º-A, isto é, qual dispositivo da CR teria sido invadido pelo Legislativo dentro de seu espaço de conformidade democrática, até porque “proporcionalidade”, no mínimo, atrai o ônus argumentativo de motivação e fundamentação adequadas.
Em suma, ainda que o CPP expressamente consagre a adoção do sistema acusatório, vedando a iniciativa probatória do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do acusador, a interpretação dada pelo STF resguarda a possibilidade de o juiz determinar a realização de diligências suplementares, para dirimir dúvida sobre questão relevante para o julgamento do mérito. Ainda que não seja o ideal, fica clara a natureza excepcional, pontual e apenas com a função de esclarecer dúvida sobre questão relevante, para julgamento do mérito [jamais na investigação ou antes do momento do julgamento/sentença].
Feita a importante ressalva, sigamos analisando o que “sobrou” do artigo 3º-A. A redação do artigo expressamente adota o sistema acusatório, distinguindo duas situações:
[1º] Vedação da atuação do juiz na fase de investigação, o que é um acerto, proibindo a atuação de ofício para decretar prisões cautelares, medidas cautelares reais, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e telefônico etc.
[2º] Vedação – na fase processual – da substituição pelo juiz da atividade probatória de quem acusa.
O problema, como já explicado, veio depois, na interpretação dada pelo STF, ao permitir o juiz determinar de oficio, a realização de diligências complementares, quando houver dúvida sobre questão relevante. Logo, cabe definir o âmbito de incidência da segunda parte do artigo. O que significa “substituição da atuação probatória do órgão de acusação?”.
A nosso juízo, toda e qualquer iniciativa probatória do juiz [de ofício] apta à ampliação do conjunto de provas já representa uma “substituição” da parte, ou seja, um reforço auxiliar. Considerando que no processo penal a atribuição da carga probatória é inteiramente do acusador [pois — como já ensinava James Goldschmidt — não existe distribuição de carga probatória, mas sim a “atribuição” ao acusador; a defesa não tem qualquer carga probatória, pois marcada pela presunção de inocência], qualquer invasão nesse terreno por parte do juiz representa uma “substituição da atuação probatória do acusador”.
Nada impede, por elementar, que o juiz questione testemunhas, ofendidos e/ou informantes, após a inquirição das partes, para esclarecer algum ponto relevante que não tenha ficado claro [na linha do que preconiza o artigo 212 do CPP, que se espera agora seja respeitado], ou os peritos arrolados, desde que sem a ampliação dos argumentos já ofertados pelas partes [Teoria do Caso]. O aceitável, no máximo, é o aprofundamento vertical da cognição; jamais horizontal [ampliação do conjunto ou espaço cognitivo]. Logo, o órgão julgador pode “esclarecer” algo na mesma linha de indagação já aberto pelas partes, vedada a inovação por meio de novas perguntas ampliativas, nem, muito menos impor novas provas de ofício [1].
É importante ainda, retomarmos a briga pela efetividade do artigo 212, do CPP: [a] quem pergunta primeiro são as partes; [b] se o juiz antecipa perguntas, substitui as partes; e, [c] o artigo 3º-A proíbe que o juiz substitua a atividade probatória das partes. Como dito, excepcionalmente, ao final, poderá perguntar para esclarecer algo que não compreendeu dentro do espaço cognitivo já delimitado, isto é, mitigar o efeito dos ruídos comunicativos. Não mais do que isso.
O protagonismo na instrução é das partes, sendo o juiz alguém que deve estar cognitivamente aberto para decidir, atrasando ao máximo a tomada de decisão. Nada de decidir antes [ainda que inconscientemente. Aliás, dentre as instruções dadas aos jurados norte-americanos, em geral, adverte-se que a decisão deve ser tomada somente ao final] e depois ir atrás da prova que justifica a decisão subjetivamente já tomada [Hipótese sobre os fatos, dizia Franco Cordero]. Se o órgão julgado é o destinatário das provas, não é o protagonista. Se é protagonista, produz para si mesmo. O slogan do caráter público do Processo Penal se sincero, deveria autorizar ampla produção de provas, em qualquer fase, não fosse má compreensão da extensão do princípio acusatório.
É preciso reiterar, ainda, para outra dissimulação: órgão julgador produzindo prova de ofício a título de “ajudar a defesa”. Em um processo acusatório existe um preço a ser pago: o órgão deve se conformar com a atividade probatória incompleta das partes, na linha da Economia da Confiança de Scott Shapiro.
Não se lhe autoriza a descer para a arena das partes e produzir [de ofício] provas nem para colaborar com a acusação e nem para auxiliar a defesa. Ele não pode é “descer” na estrutura dialética, nem para um lado e nem para o outro. Mais grave ainda, como adverte Morais da Rosa, é quando o juiz, “fingindo que age em prol da defesa, passará a produzir provas para condenação”. “Fique bem claro: juiz com dúvida absolve (CPP, artigo 386, VII), porque não é preciso dúvida qualificada, bastando dúvida razoável. Temos visto magistrados, ‘em nome da defesa’, decretarem de ofício a quebra de sigilo telefônico, dados, de todos os acusados com smartphones apreendidos, para o fim de ‘ajudar’ a defesa. É um sintoma da perversão acusatória.” [2].
Mas, infelizmente, existe o risco de a incompreensão do que seja um sistema acusatório, ou sua reducionista compreensão, somada a tal vagueza conceitual [substituição da atuação probatória] conduza ao esvaziamento dessa cláusula de barreira, até mesmo pela fraude da relativização das nulidades e seu princípio curinga [prejuízo]. Aliás, o inquisidor raiz faz e acontece, porque as normas são firulas defensivas, impeditivas do encontro da verdade real, alheios ao devido processo legal.
É preciso compreender ainda a complexidade da discussão acerca dos sistemas, pois todas essas questões giram em torno do tripé sistema acusatório, contraditório e imparcialidade. Porque a imparcialidade é garantida pelo modelo acusatório e sacrificada no altar da verdade real assumida pelo sistema inquisitório, de modo que somente haverá condições de possibilidade da imparcialidade quando existir, além da separação inicial das funções de acusar e julgar, o afastamento do juiz da atividade investigatória/instrutória.
Portanto, pensar no sistema acusatório desconectado do princípio da imparcialidade e do contraditório é incorrer em grave reducionismo. Não se está, de modo algum, desconfiando da pretensão de imparcialidade dos julgadores. A imensa maioria dos sistemas concretos reconhece a necessidade de separação entre as funções de acusar e julgar, associada à atribuição da carga ou ônus probatório a quem acusa, ausentes motivos para acreditarmos que os magistrados brasileiros estão ilesos às armadilhas cognitivas, talvez justamente pela mentalidade inquisitória que forma e performa a estrutura do nosso processo penal.
Temos muito o que lutar ainda. Mais uma vez fica demonstrado que não basta mudar a lei, é preciso mudar a cultura e a mentalidade dos atores judiciários, papel desempenhado pelo Observatório da Mentalidade Inquisitória. O Movimento da Sabotagem Inquisitória está sempre à espreita, aguardando qualquer momento para atuar por meio de esquivas interpretativas. Entre idas e vindas, redobramos a nossa disposição rumo à implementação do modelo acusatório [não puro, por ser impossível, nem defendido por nós], circunscrito à demarcação constitucional das funções:
[1] Quem acusa, prova;
[2] Quem defende, não precisa provar nada [defesa negativa].
[3] O estado inicial de “inocência” somente se altera para “condenado” quanto o terceiro, órgão julgador, ao final do processo, reconhecer a superação do standard probatório [para além da dúvida razoável; falaremos noutra coluna] e realizar o raciocínio judicial de modo válido e sólido.
Ainda que a decisão do STF tenha, do nosso ponto de vista, equívocos parciais [por desconsiderar os atributos que conformam os fundamentos do Sistema Acusatório: gestão da prova atribuído somente a quem acusa, vedada atividade judicial], a mudança de cultura pode efetivar o modelo acusatório. Explicamos: a decisão do STF — que permite ao juiz a produção de prova de ofício, de forma excepcional e complementar — é uma tábua de salvação para algum juiz de mentalidade inquisitória, mas não representa limitação aos juízes comprometidos com a Constituição e a matriz acusatória.
Esses, poderão continuar respeitando o sistema [acusatório] e julgando com base na prova produzida em juízo pela acusação. E, se o acervo probatório for insuficiente, absolvendo em nome do in dubio pro reo. Não estão obrigados a assumir as vestes de inquisidor. Mas a responsabilidade é individual e intransferível.
Cenas do próximo capítulo: semana próxima abordaremos mais tópicos do julgamento do “pacote anticrime”.
Publicado no ConJur.