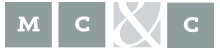Sistemas e reformas do processo penal, segundo o professor Glauco Giostra
06/12/2023Por Jacinto Nelson de Miranda Coutinho e Bruno Cunha Souza
Glauco Giostra é professor ordinário (catedrático) de Processo Penal na Università Degli Studi di Roma, La Sapienza, e participou da comissão que elaborou o Código de Processo Penal italiano. Nesta segunda-feira (4/12), Giostra participou da última reunião do Grupo de Estudos Franco Cordero, do PPGCrim da PUC-RS [1], o qual passou o ano discutindo Primeira Lição sobre a Justiça Penal [2], último livro do professor, que foi a sensação do mundo jurídico no ano acadêmico italiano.
Na reunião [3], respondeu perguntas formuladas pelos alunos sobre os mais diversos temas, dos quais se destacam aqueles referentes aos sistemas processuais e às reformas processuais penais, além da questão da verdade, das iniciativas instrutórias de ofício dos juízes, dos modelos de duplos autos, todos que sobremaneira interessam à comunidade jurídica brasileira. Esclareceu, também, pontos vitais do sistema acusatório processual penal italiano e fez sugestões sobre eventual refundação do sistema brasileiro.
O professor Glauco Giostra
Com muita clareza e lucidez, Giostra disse que não acredita ser possível uma reforma processual penal acusatória através de enxertos legislativos em um código essencialmente inquisitório (que estrutura um processo misto), como se tem feito no caso brasileiro pois “[…] arrisca-se somar os defeitos de ambos [processo acusatório e essencialmente inquisitório (ou misto)], sem poder fruir plenamente as importantes garantias individuais e democráticas oferecidas pelo sistema acusatório.”
O autor italiano tem-se tornado cada vez mais popular no Brasil desde a publicação de seu livro Primeira Lição sobre a Justiça Penal e, mais recentemente, com a publicação, pela Revista Brasileira de Ciências Criminais, do texto “Justiça e Verdade” [4].
Confira parte da entrevista concedida na reunião:
Pergunta – Para o senhor, julgar é uma tarefa necessária e impossível ao mesmo tempo. Necessária pela sua função de coesão social, e impossível pelas fontes reconstrutivas sobre as quais se trabalha serem sempre incompletas e pela eterna incerteza sobre a obtenção da verdade histórica. A articulação que faz entre uma verdade redimensionada/desinchada no processo penal — não mais como o valor, mas como um valor — e a valorização da função de coesão social do julgar para explicar/legitimar a justiça penal nos faz pensar sobre a importância da Verdade nas discussões sobre a reforma do processo penal.
Na Itália, o professor Paolo Ferrua sustenta que um dos maiores erros de alguns apoiadores do processo acusatório foi o de presentear aos apoiadores do processo inquisitório (misto) o fim de verdade. No Brasil, é difusa uma ideia de que a verdade seria uma garantia do imputado e que estaria a serviço dos direitos de defesa, que deveria ser um objetivo institucional do processo penal, que a verdade dos fatos funcionaria como uma espécie de medida para a decisão do juiz. Para o senhor, “a justiça penal, o processo penal em sentido estrito serve apenas para acertar o fundamento de uma acusação: para absolver ou condenar. A magistratura e o processo não podem e não devem perseguir objetivos diferentes”.
Por isso, questiona-se: seria possível deixar de usar o conceito de verdade ao explicar a atividade da justiça penal? Qual o papel desse conceito para a reforma do processo penal? O senhor concorda com o professor Ferrua sobre a necessidade de admitir ao processo penal um fim de verdade?
Glauco Giostra – Um moderno processo penal digno desse nome não pode deixar de ter como fim último a busca da verdade. Mas uma coisa é cultivar uma incansável tensão ideal direcionada à obtenção da verdade; outra é pensar que o processo penal seja um percurso com etapas ao final do qual há sempre em seu final (na sentença) a verdade. Mesmo consciente da grosseira simplificação, podemos dizer que a primeira abordagem é típica do sistema acusatório; enquanto em direção à segunda se inclina mais frequentemente o sistema inquisitório (mesmo se na realidade é difícil encontrar esses sistemas na versão pura).
Em nome da verdade, atingível e a se obter a qualquer custo, em tal caso se destroem os direitos individuais. Devemos, ao invés disso, reconhecer que a nós, humanos, é dado somente elaborar um método que, respeitando a nossa humanidade, nos permita de considerar que tenhamos empregado todos os recursos para nos aproximar da verdade, de modo que o povo possa aceitar pro veritate a resposta da justiça administrada em seu nome. Podem cambiar os itinerários cognitivos considerados mais idôneos ao escopo, mas a mudar é a forma do proceder e não o seu fim.
Em conclusão, a minha opinião, que o senhor gentilmente recordou, é que a verdade deve se constituir o ponto de fuga em direção ao qual o processo funcionalmente tende, sem porém que possa nos garantir de tê-la obtida. Isso por duas ordens de razão: antes de tudo, porque há valores inclusive mais valiosos que a busca da verdade, como, por exemplo, a dignidade humana e outros direitos fundamentais do indivíduo.
Quando, como nos sistemas inquisitórios, presume-se que se possa sempre e, então, deva-se obter a verdade, em geral os valores fundamentais da pessoa são sacrificados em prol da busca da verdade, a começar pelo uso de instrumentos capazes de “extraí-la” do único sujeito que sabe qual seria a verdade da situação judicial que lhe diz respeito: o acusado. Desde a tortura física praticada habitualmente em tempos que felizmente remontam aos modernos instrumentos de violação da capacidade de autodeterminação de uma pessoa (narcoanálise, detectores de mentiras, etc.): o fim justifica os meios.
Quando, porém, se parte da consciência de que, embora o processo deva sempre tender para a busca da verdade, nunca poderá dar-nos a certeza de a termos alcançado, o legislador trabalhará no sentido de preparar um sistema de regras considerado o melhor para se aproximar da verdade, sem utilizar métodos dos quais a humanidade saia humilhada.
Pergunta – No seu texto, recentemente publicado no Brasil, “Justiça e Verdade”, senhor afirma: “No senso comum é como se a justiça penal se valesse de uma espécie de algorítmo processual que, corretamente aplicado, conduziria à Verdade. […] Não expressa, mas radicada uma ideia de fundo: o processo penal constitui uma espécie de GPS que, se não manipulado, guia o juiz à Verdade, acertando como se desenvolveram os fatos e predicando-lhes o valor jurídico. Apesar de difundida, uma ideia tal está para a justiça, como o terraplanismo está para a realidade cósmica. Existem sentenças justas e, no entanto, órfãs da verdade. Afirmação forte, nos limites do oxímoro, mas muito próxima — essa sim — à verdade.”
O senhor poderia nos explicar o que quer dizer com a afirmação destacada?
Glauco Giostra – A resposta que tentei dar à pergunta anterior ajuda-me a explicar melhor o significado da afirmação que o senhor gentilmente citou. O único resultado que nós, humanos, podemos aspirar realisticamente quando somos forçados a realizar a tarefa sobre-humana de julgar é usar todos os nossos recursos cognitivos para tentar chegar à verdade, sem mortificar valores igualmente importantes numa sociedade democrática e respeitosa do ser humano. Dissemos que mesmo o melhor itinerário cognitivo preparado pela coletividade para chegar à verdade nem sempre consegue realmente atingir o escopo devido aos limites das nossas capacidades ou devido à escolha cultural de não a perseguir em detrimento de valores igualmente fundamentais em uma sociedade digna do ser humano.
Mesmo neste caso, a sentença proferida seguindo o caminho legalmente traçado para cumprir a árdua tarefa de jus dicere deve ser considerada uma sentença justa, ainda que não coincidente com a verdade histórica (sempre supondo que tal desvio seja demonstrável). Se, por exemplo, a única prova da culpabilidade de um imputado for constituída pela intercepção ilícita da sua conversa com o seu advogado, o juiz que considerasse corretamente, com base nas regras processuais, a inutilizabilidade daquela prova decisiva e absolvesse o imputado, teria proferido uma sentença justa, mesmo que provavelmente carente de verdade.
Pergunta – O seu conceito redimensionado/desinchado de verdade parece muito adequado para um processo acusatório. Sobre a relação entre verdade e processo acusatório, discutem-se as iniciativas probatórias e os poderes instrutórios dos juízes. No Brasil, a doutrina processual penal mais crítica sustenta que os juízes não devem ter iniciativas instrutórias e que seria inútil conceder-lhes poderes complementares, uma vez que a regra para a decisão em situação de dúvida é a favor do acusado.
Na Itália, percebe-se a opinião de que a necessidade de uma jurisdição cognitiva, ou seja, interessada na apuração dos fatos, é consequência da indisponibilidade da res iudicanda penal e da presunção de inocência e, portanto, excluir o juiz dessas atividades seria incompatível tanto com a indisponibilidade da res iudicanda, quanto com a presunção de inocência. Na sua opinião, quando/onde o juiz deve parar na produção das provas?
Glauco Giostra – O problema subjacente à questão é muito delicado. A exclusão de qualquer poder de iniciativa do juiz correria o risco de fazer com que o julgamento descaísse para uma lógica meramente antagônica, em que o resultado dependeria das capacidades dialéticas da acusação e da defesa, não deixando ao juiz outro poder que não aquele de sancionar a supremacia de uma sobre a outra. Por outro lado, conceder ao juiz poderes incondicionais de iniciativa oficiosa significaria comprometer a sua imparcialidade: quem persegue a sua própria hipótese de busca da verdade é a pessoa mais inadequada para julgar o fundamento da sua hipótese.
A situação provavelmente menos inadequada — porque segundo esta lógica deveríamos sempre avançar quando tentamos regular uma tarefa que está além das nossas possibilidades, como fazer justiça — a situação provavelmente menos inadequada, eu dizia, parece-me ser a de permitir ao juiz iniciativas probatórias de ofício, mas sempre com um critério residual face ao contraditório expresso pelas partes e apenas para integrar, ou melhor, testar os contributos destas ofertas, permanecendo no seu perímetro temático.
O que sempre deveria ser proibido ao juiz é poder perseguir uma hipótese reconstrutiva autônoma do caso concreto [fattispecie concreta], acabando por assumir o impensável papel de juiz-inquisidor.
Pergunta – A Lei 13.964/19 tentou introduzir um modelo de duplos autos no Brasil e separar a fase de investigação do julgamento. No entanto, esta reforma foi esvaziada com uma “interpretação conforme à Constituição” feita pelo Supremo Tribunal Federal. O tema do modelo de duplo juiz e duplos autos parece de fundamental importância para o processo acusatório italiano, mas no Brasil ainda estamos longe de fazer entender a importância dessas modificações para um processo acusatório. Portanto, poderia explicar-nos como funciona a formação dos autos na Itália e em que medida esta atividade valoriza o contraditório para a formação da prova?
Glauco Giostra – O modelo de duplos autos constitui a transposição física da separação entre as investigações e o julgamento: se os resultados da investigação tendencialmente não deveriam ter significado probatório para os fins do julgamento, mas servir exclusivamente para as partes nas suas determinações, parecia uma solução coerente para recolher os resultados das investigações em autos reservados às partes e incluir nos autos do julgamento à disposição do juiz apenas os documentos que, quer pela sua irrepetibilidade (por exemplo, intercepção telefónica), quer porque foram tomados excepcionalmente com as garantias do julgamento, mesmo durante a fase de investigação (na Itália: incidente probatório), destinam-se a ser utilizados como prova pelo próprio juiz.
Na fase de julgamento, as partes podem recorrer aos autos de investigação apenas para extrair elementos críticos das declarações feitas durante a audiência de instrução e julgamento: a utilização do ato de investigação para fins de crítica/contestação, no entanto, nunca autoriza a sua utilização em sentido probatório. Desta forma, decidiu-se proteger a chamada virgindade cognitiva do juiz, que de outra forma teria sido comprometida pelo conhecimento prévio de todo o compêndio investigativo.
Uma solução provavelmente perfeita do ponto de vista lógico, mas cujos limites não devemos ignorar. Basta pensar no problema da publicação de documentos investigativos não secretos. Uma publicação completa implicaria, de fato, contornar o sistema de duplos autos: o juiz poderia adquirir, extraprocessualmente (através dos meios de comunicação), aquele conhecimento que lhe é proibido endo-processualmente. Por outro lado, porém, é democrática e realisticamente impensável que toda a complexa e muitas vezes prolongada atividade de investigação seja mantida no escuro da coletividade.
Daí a solução, no nosso sistema, de permitir a publicação sumária dos documentos de investigação, confiando no fato de um resumo jornalístico ser muito menos capaz de influenciar o juiz do julgamento/processo. Remédio que, aliás, é fácil de contornar: o jornalista não pode, de fato, ser impedido de relatar substancialmente o conteúdo do documento na sua textualidade com pequenos ajustes lexicais, facilmente reconhecíveis pelo juiz-leitor. Resta-nos acrescentar, para reduzir pelo menos quantitativamente os termos do problema, que este só surge no caso de processos de importância mediática, ainda minoritários.
Pergunta – Sobre o erro judiciário e a impossibilidade de saber se o cometemos como juízes. O senhor assinala que os julgamentos não são avaliados pelos resultados obtidos, mas pela fidelidade que tiveram ao método pré-estabelecido em lei para realizá-los, porque o poder jurisdicional segue um programa condicional (Luhmann) e isso subtrai a jurisdição da crítica política. Para o senhor, o processo acusatório teria maior idoneidade que o processo inquisitório para realizar este programa condicional que subtrai a jurisdição à crítica política? Se sim, por quê?
Glauco Giostra – Eu tentaria distinguir. Uma coisa é dizer que quase nunca somos capazes de estabelecer se uma sentença atingiu a verdade, uma vez que não podemos afirmar conhecer a verdade. Por isso, ao contrário de outras funções públicas, a judicial não é julgada pelo resultado, mas pelo método seguido. Outra coisa é afirmar que a função judicial obedece a um programa condicional (se isto aconteceu… segue-se que…) e por isso deve ser afastada da crítica política. Quero dizer que o juiz só deve aplicar as consequências estabelecidas pela lei relativamente ao fato que lhe é submetido, sem ter o poder ou o dever de arcar com as consequências econômicas, sociais ou políticas da sua decisão.
Pergunta – No Brasil, o Código de 1941 segue, a despeito das diversas reformas parciais, às vezes direcionadas em um sentido acusatório, com a estrutura de processo misto, essencialmente inquisitório. Segundo a sua experiência com o processo penal na Itália, o senhor considera que existem outros fatores — além de um novo código — para tornar um processo penal como o nosso, baseado no codice Rocco, em um acusatório? Se sim, quais seriam? Além disso, quanto — ou como — são relevantes novas regras para a mudança de uma mentalidade inquisitória?
Glauco Giostra – Sinceramente, não acredito que a transição em direção a um sistema acusatório possa ser buscada através de enxertos normativos em um sistema inquisitório: arrica-se somar os defeitos de ambos, sem poder fruir plenamente as importantes garantias individuais e democráticas oferecidas pelo sistema acusatório. Por outro lado, qualquer operação meramente normativa, como já experimentamos várias vezes na Itália, não conseguirá surtir os efeitos esperados se não é acompanhada por uma difusa consciência cultural da importância da novidade legislativamente introduzida.
Simplificando, quero dizer que nenhuma norma poderá nos garantir o valor profundo representado por um processo estruturado pelo método dialético se na coletividade e sobretudo nos juízes não esteja amadurecida a consciência, pelas aquisições, de décadas, da mais acreditada psicologia forense, que as informações adquiridas pelo acusador ou pelo defensor não têm em regra, com paridade de fonte testemunhal, a mesma completude, confiabilidade e genuinidade daquelas produzidas pelo juiz no contraditório entre as partes.
[1] Coordenado pelo prof. dr. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho.
[2] GIOSTRA, Glauco. Primeira lição sobre a justiça penal. Trad. de Bruno Cunha Souza. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2021.
[3] Que foi organizada por Gustavo Gomes Brito, aluno do PPGCRIM/PUC-RS; e teve a tradução do prof. Bruno Cunha Souza.
[4] GIOSTRA, Glauco. Justiça e verdade. Trad. Souza, Bruno Cunha. Revista Brasileira de Ciências Criminais. vol. 199. ano 31. p. 109-118. São Paulo: Ed. RT, nov./dez. 2023. Disponível em: http://bit.ly/giostrajustiçaeverdade. Acesso em: 4/12/2023.
Publicado no ConJur.